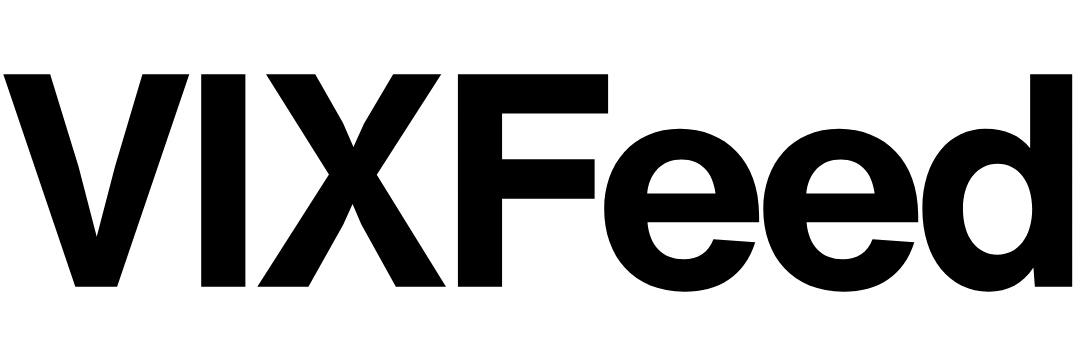Atualizado em 22/08/2025 – 19:55
Minha última semente plantada foi um pé de feijão no algodão, quando eu estava no segundo ano do fundamental. O primeiro feijão sequer chegou em casa— deve ter caído da minha mochila no caminho de volta da escola. Queria enterrá-lo. Oferecer-lhe uma morte digna, ou quem sabe alguma vida. O segundo foi minha mãe quem me deu. Ao se deparar com a minha frustração, ela foi logo catando o saco de feijão. Escolhi o mais brilhante para germinar no algodão. Cuidamos dele por dias. Controlávamos a rega e tirávamos fotografias para acompanhar o crescimento das raízes. Um mês depois, decidimos transportá-lo para um jarro. Fincamos o feijão na terra.
Ele morreu quando viajamos de férias.
As fotos se extraviaram em caixas desde a nossa última mudança — depois desta, outras cinco aconteceram. Tenho na memória a imagem dessas fotos, como se as tivesse criado: a posição das raízes no algodão úmido, que logo perdeu a brancura; o grão de feijão se abrindo; a folha rompendo o envoltório com força. As raízes eram fios tentaculares que se expandiam de acordo com o tempo de rega e de luz. O caminho trágico do meu segundo feijão não me desanimou, queria entender a dinâmica, o exercício curioso do cultivo.
Além do que envolvia a própria natureza, ensinando-nos sobre a vida e seu desabrochar, nós também crescemos. Não apenas nas nossas unhas, que reservavam terra vermelha por debaixo, mas na brincadeira memorável com o esterco bovino que compunha, junto a sujeira no chão de taco velho daquele apartamento alugado, uma bela lembrança. Lembro do azul nos vãos da janela e do amarelo na porta. Agora, num lugar mais novo e menos espaçoso, reproduzo o ritual ensinado pela minha mãe, desta vez com a minha filha. Porém, não exercitamos a espera no crescimento das sementes: compro mudas e replanto em jarros maiores, junto a uma mistura mística de terras com esterco animal. O piso novo da casa recebe tanta terra quanto o anterior. Não é possível exigir desenvoltura cuidadosa quando uma criança mexe com terra — ou quando se criam memórias.
Me pergunto quando foi que perdi o interesse em medir o tempo pela natureza. Renunciei às pequenas miudezas que compõem o tempo de espera da semente, seu crescimento. Talvez me falte tempo para me dedicar ao cultivo e ao deslumbre. Exercitar o cultivo e o deslumbre. Não excluímos totalmente o encantamento em nossas práticas: a verdade é que as plantas crescem com mais vitalidade quando são contempladas. Seja um manjericão, que deve ser sacudido no início da manhã para perfumar, por um instante, a ponta dos dedos, ou a roseira exuberante que compramos na última ida ao supermercado — as plantas crescem mais se são admiradas.
Certa vez, procurava uma muda de babosa. Minha filha e eu já a usávamos no cabelo e na pele, mas eu havia descoberto, fazia pouco, que a babosa também tratava males do aparelho digestivo, se bem manuseada. Perguntei às minhas amigas, às avós delas. As minhas também não tinham em casa. Essa empreitada me rendeu novas mudas de espada-de-São-Jorge e de Santa Bárbara, vindas do terreiro da vovó Zizinha, mas, até então, nada de babosa.
No Dia das Mães, fui até a floricultura da esquina comprar um vaso de girassol, outro de lírio, um para minha mãe, outro para minha avó Luzia. Perguntei à dona pela babosa. Ela respondeu pedindo que eu voltasse em outro momento, porque a planta ficava na casa, dois quarteirões dali. Dias depois, ela me entregou uma sacola com folhas e, em um vaso, uma bela muda de babosa recém-replantada. Disse, em voz baixa e tímida, como quem confere a alguém uma informação secreta: “Essa, quem plantou foi a minha mãe”.
Não há um dia em que minha filha se esqueça de regar a babosa e contemplar as longas folhas rechonchudas com os dedos, como quem acaricia um animal de estimação. Estivemos viajando nas férias e, para que não se repetisse a história do feijão, pedi a um amigo que cuidasse das plantas. As folhas, porém, não mantiveram a vitalidade costumeira: cresceram a contragosto, sem os dedinhos encostando diariamente na sua estrutura caudalosa e firme, desviando dos espinhos laterais.
Na volta da viagem, resolvemos retocar a terra e remanejar alguns vasos de lugar. Seguimos, com mais intensidade, o protocolo da contemplação, tentando recuperar o tempo de ausência. Enquanto sujávamos, em ritual, o chão da sala e superfícies adjacentes, percebi que as mãos que misturam terra vermelha e substrato seguem um ritmo semelhante ao da última geração. Ensinam sobre o manuseio das raízes, realocando caules crescidos que já não cabem mais. Repetem o movimento da memória que se nutre no vínculo, mas também na liberdade espontânea de crescer. Revisito os gestos de minha mãe, inauguro novos vasos e contemplo, admirada, o crescimento das mãos miúdas acariciando cuidadosamente as folhas suculentas da babosa. Elas já sabem contornar os espinhos da rosa — lição que aprendi só depois de crescer, e continuar crescendo.
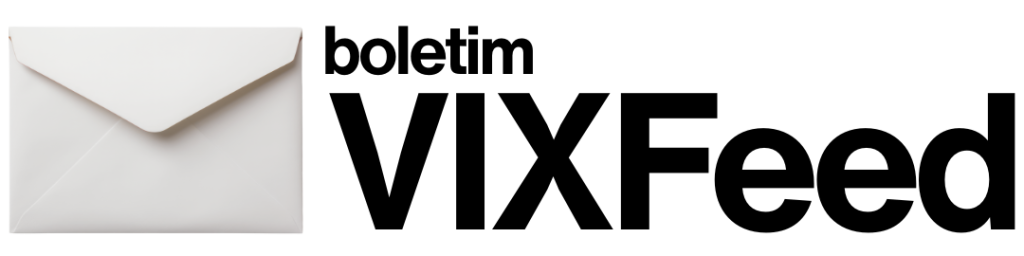
Os principais eventos do ES toda semana no seu e-mail, totalmente grátis.